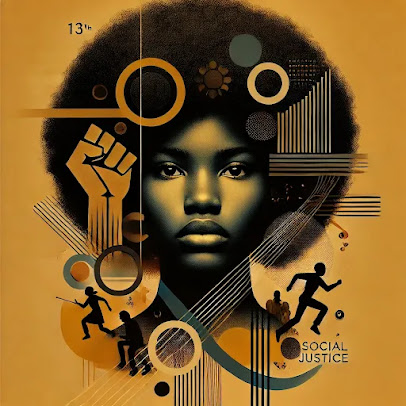Por Diego de Almeida.
Bonecas em Lugar de Gente: Um Sintoma do Adoecimento Emocional da Sociedade Contemporânea
Vivemos tempos estranhos. Em meio a avanços tecnológicos extraordinários e debates complexos sobre o futuro da humanidade, uma tendência tem chamado a atenção pelo seu caráter sintomático e, por que não dizer, alarmante: o crescente número de mulheres adultas que adotam bebês reborn — bonecas hiper-realistas que simulam recém-nascidos — como se fossem filhos reais. Mais do que uma simples curiosidade ou hobby inofensivo, esse fenômeno merece uma reflexão profunda sobre o estágio emocional da sociedade e sobre o que estamos fazendo (ou deixando de fazer) em relação à evolução e preservação da humanidade.
Os bebês reborn surgiram, inicialmente, como instrumentos terapêuticos para mulheres que enfrentaram perdas gestacionais ou traumas relacionados à maternidade. No entanto, com o tempo, o uso dessas bonecas ultrapassou o campo da terapia e passou a ocupar um espaço simbólico: o da substituição da maternidade real por uma maternidade simulada, estéril, estética e controlável. A mulher que escolhe "criar" um boneco ao invés de investir no desenvolvimento de uma criança real — seja por meio da maternidade biológica, adoção ou ação comunitária — opta, conscientemente ou não, por se desconectar do compromisso fundamental com a continuidade da espécie e com a formação de novas gerações.
Essa escolha pode ser vista como uma metáfora perturbadora de um tempo em que a conveniência e a negação da dor substituem o enfrentamento dos desafios reais da vida. Afinal, um boneco não chora de verdade, não adoece, não tem vontades próprias e, sobretudo, não cresce. Criar um boneco é manter-se em um ciclo estagnado, que serve ao ego e não à coletividade. É a maternidade sem o outro, sem o futuro, sem responsabilidade.
Mais do que uma questão individual, o culto ao reborn escancara uma patologia social maior: a infantilização das emoções na vida adulta. Estamos diante de uma geração emocionalmente frágil, cada vez menos preparada para lidar com a frustração, a perda, o conflito e a alteridade. Há uma busca desesperada por controle e previsibilidade em um mundo caótico — e os bebês reborn simbolizam esse desejo inconsciente de retornar ao útero psicológico da segurança absoluta.
Essa imaturidade emocional, além de limitar o desenvolvimento pessoal, impacta negativamente na saúde coletiva. Uma sociedade que prefere bonecas a crianças, avatares a pessoas reais, relações idealizadas a vínculos autênticos, está adoecendo — e rápido. A empatia, a resiliência e o compromisso com o outro estão sendo trocados por simulacros de afeto que apenas retroalimentam o vazio existencial.
O ser humano é, por excelência, um animal que projeta o futuro. Tudo o que construímos enquanto civilização — desde ferramentas até valores morais — tem como finalidade a preservação e o aprimoramento da vida. Ao optar por não gerar, não educar e não se responsabilizar por novas vidas, há um rompimento com esse pacto civilizatório. Não se trata aqui de uma defesa cega da maternidade biológica, mas da crítica à substituição do compromisso humano por versões artificiais e narcisistas da experiência humana.
Estamos diante de uma geração que, muitas vezes, prefere cuidar de bonecos a envolver-se na complexidade da criação de crianças reais, contribuindo assim para um mundo onde a reprodução simbólica substitui a reprodução biológica, e o afeto simulado eclipsa a construção de vínculos genuínos.
Conclusão: precisamos falar sobre humanidade
A epidemia silenciosa das “mães de reborn” não é uma moda excêntrica, mas um alerta: estamos perdendo o sentido de pertencimento à coletividade e ao tempo. A humanidade não sobrevive de bonecas, de fantasias, de negações. A humanidade se preserva com vínculos verdadeiros, com a coragem de enfrentar a dor, com a responsabilidade de gerar, cuidar, ensinar — mesmo diante do caos.
É tempo de acordar do delírio emocional que nos mantém infantilizados e de retomar o compromisso com o que há de mais nobre em nossa condição: o de criar gente, não bonecos. O de cuidar do futuro, não apenas de nossas próprias carências.